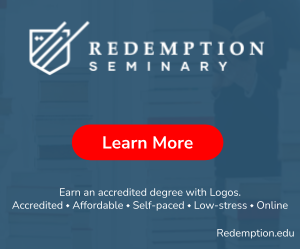A1 - A Religião Medieval: o contexto da Reforma
A Reforma Protestante • Sermon • Submitted • Presented
0 ratings
· 16 viewsNotes
Transcript
Hoje, olhando para trás, parece quase impossível ter a mínima noção de como deve ter sido essa época. “Medieval” — a própria palavra invoca imagens góticas e sombrias de monges cantando — enlouquecidos pelo claustro — e camponeses supersticiosos em revolta. Tudo muito estranho. Em especial aos olhos da modernidade: somos igualitaristas democráticos da cabeça aos pés, eles viam tudo em sentido hierárquico; nossa vida gira em torno de alimentar, amamentar e fartar o ego, eles buscavam abolir e rebaixar o ego (ou, pelo menos, admiravam quem assim procedia).
A lista de diferenças poderia prosseguir. Ainda assim, esse foi o cenário da Reforma, o contexto em que as pessoas eram tão apaixonadas pela teologia. A Reforma foi uma revolução, e revoluções não lutam só a favor de algo, elas também lutam contra alguma coisa — nesse caso, o velho mundo do catolicismo romano medieval. Assim, como era ser um cristão nos séculos anteriores à Reforma?
Papas, padres e purgatório
Papas, padres e purgatório
Era opinião comum que o apóstolo Pedro, a quem Jesus disse: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja” [Mt 16.18], fora martirizado e enterrado ali, permitindo a edificação da igreja, de forma bastante literal, sobre ele. Assim, pelo fato de o Império Romano considerar Roma sua mãe e César seu pai, o império cristão da igreja procedia agora da mesma forma: Roma permanecia sua mãe e o sucessor de Pedro o pai ou “papa”. De forma geral, todos os cristãos reconheciam em Roma e no papa os pais insubstituíveis. Sem o papa (pai) não existiria igreja; sem a mãe igreja, não haveria salvação.
O papa era considerado o “vicário” (representante) de Cristo na terra e, desse modo, ele era o canal por meio de quem toda a graça divina fluía. Ele detinha o poder de ordenar bispos que, por sua vez, poderiam ordenar sacerdotes; e, juntos, os membros do clero eram os únicos detentores de autoridade para abrir as torneiras da graça. Essas torneiras consistiam nos sete sacramentos: batismo, crisma, missa, penitência, matrimônio, ordem e extrema-unção (hoje designada “unção dos enfermos”).
A ideia era que tudo isso parece bastante automático, pois o povo comum, considerado ignorante e iletrado, era considerado incapaz de expressar a fé de forma explícita. Assim, ainda que a “fé explícita” fosse considerada desejável, a “fé implícita”, em que a pessoa vem à igreja e recebe os sacramentos, era tida como algo aceitável. Estando o povo sob as torneiras, recebia-se a graça.
As pessoas eram recebidas na igreja para provar da graça de Deus por meio do batismo (em geral quando bebês). Na verdade, a missa era a parte central do sistema todo. Isso seria óbvio no momento em que se entrava na igreja local: toda a arquitetura conduzia ao altar em que se celebrava a missa. E seu nome era altar por um bom motivo: na missa, o corpo de Cristo era sacrificado de novo para Deus. Por meio desse sacrifício “sem sangue” oferecido todos os dias, repetindo o sacrifício “com sangue” de Cristo na cruz, se apaziguava a ira divina contra o pecado. Todo dia Jesus era oferecido de novo a Deus como sacrifício pela expiação. Assim eram tratados os pecados diários.
No entanto, não é óbvio que faltava alguma coisa nesse sacrifício? O corpo de Cristo não estava de fato sobre o altar, e o sacerdote manipulava apenas pão e vinho. Essa era a engenhosidade da doutrina da transubstanciação. De acordo com Aristóteles, cada coisa dispõe da própria “substância” (realidade interna) e “acidentes” (aparência). A “substância” de uma cadeira, por exemplo, é a madeira, e seus “acidentes” seriam a sujeira e a cor marrom. Pinte a cadeira e os “acidentes” mudam. A transubstanciação concebia o oposto: na missa, a “substância” do pão e do vinho era transformada no corpo e sangue literais de Jesus, enquanto permaneciam os “acidentes” do pão e do vinho. Tudo pode parecer um pouco rebuscado, mas havia relatos suficientes para persuadir os duvidosos, histórias de pessoas recebendo visões de sangue real no cálice, carne real na pátena e por aí vai.
O momento da transformação acontecia quando o sacerdote pronunciava as palavras de Cristo em latim, Hoc est corpus meum (“Este é meu corpo”). Então, tocavam-se os sinos da igreja e o sacerdote erguia o pão. Era normal o povo conseguir comer o pão só uma vez por ano (e jamais bebiam do cálice — afinal, e se um camponês desajeitado derramasse o sangue de Cristo no chão?), mas a graça os alcançava apenas na contemplação do pão elevado. Era compreensível que os mais devotos corressem com fervor de igreja em igreja para assistir a mais missas e, assim, receber mais graça. A missa era celebrada em latim. O povo, claro, não entendia uma palavra.
Agostinho
A base de todo o sistema do catolicismo romano medieval e de sua mentalidade era o entendimento da salvação que remontava a Agostinho (354-430 d.C.) — a teologia do amor de Agostinho, para ser mais preciso.
Agostinho ensinou que existimos para amar a Deus. Entretanto, não podemos amá-lo por natureza, mas devemos pedir que Deus nos ajude. Ele o faz ao nos “justificar”, o ato, segundo Agostinho, em que Deus verte seu amor em nosso coração (Rm 5.5). Esse é o efeito da graça canalizada por Deus nos sacramentos (segundo essa crença): ao nos tornar cada vez mais amorosos, cada vez mais justos, Deus nos “justifica”. A graça divina, nesse modelo, era o combustível para a pessoa se tornar melhor, mais justa, reta e amorosa. Esse era o tipo de pessoa que, por fim, merecia a salvação, de acordo com Agostinho. Isso era o que Agostinho queria dizer quando falava de salvação pela graça.
Falar de Deus verter sua graça para que tenhamos amor e mereçamos a salvação pode ter soado amável nos lábios de Agostinho; mas, com o passar dos séculos, esses pensamentos ganharam um matiz mais sombrio. Ninguém tinha essa intenção. Ao contrário: a atuação da graça divina ainda era descrita de formas atraentes e otimistas. “Deus não negará graça a quem faz o melhor” era o alegre lema nos lábios dos teólogos medievais. Contudo, como seria possível certificar-se de ter feito de fato seu melhor? Como alguém poderia afirmar ter se tornado o tipo de pessoa merecedora da salvação?
Em 1215, o Quarto Concílio Laterano apareceu com o que foi considerado um auxílio para todos os que buscavam ser “justificados”: ele exigia que todos os cristãos (sob pena de condenação eterna) confessassem seus pecados aos sacerdotes com regularidade. Ali, a consciência poderia ser examinada por pecados e pensamentos maus para que a impiedade pudesse ser extirpada e o cristão se tornasse mais justo. O efeito do exercício, entretanto, estava longe de trazer segurança a quem o levava a sério. Usando uma longa lista oficial, o sacerdote faria perguntas como: “Suas orações, esmolas e atividades religiosas são feitas mais para esconder seus pecados e impressionar os outros que agradar a Deus?”; “Você tem parentes, amigos ou outras criaturas mais amadas que Deus?”; “Você murmurou contra Deus por conta de tempo ruim, doença, pobreza, morte de um filho ou amigo?”. No final, ficava bem claro que ninguém era justo e amoroso, apenas uma massa de desejos sombrios.
O efeito era muito perturbador, como se pode observar na autobiografia quatrocentista de Margery Kempe, uma mulher de Norfolk, País de Gales. Ela descreveu como deixou uma confissão tão aterrorizada da condenação que uma pecadora como ela sem dúvida merecia que começou a enxergar demônios a seu redor, apalpando-a, fazendo com que ela se mordesse e arranhasse. Para a mente moderna, é tentador atribuir essa condição, de imediato, a alguma forma de instabilidade mental. Entretanto, a própria Margery deixa muito claro que seu colapso emocional se devia apenas ao fato de levar a teologia vigente a sério. Ela sabia por meio da confissão que não era justa o bastante para merecer a salvação.
É patente que a doutrina oficial da igreja deixava muito claro o fato de ninguém morrer justo o suficiente para merecer a salvação por completo. Porém, não havia motivo para alarme, pois também existia o purgatório. A não ser que os cristãos morressem sem se arrepender de um pecado mortal — como o assassinato (nesse caso as pessoas iriam para o inferno) —, eles teriam a chance de ter todos os seus pecados lentamente purgados após a morte até a entrada no céu purificados em sua totalidade.
Toda uma indústria do purgatório evoluiu por esse exato motivo: os ricos estabeleciam capelas com sacerdotes dedicados a fazer orações e missas a favor da alma do patrocinador ou de seus beneficiários afortunados; os menos prósperos se associavam a fraternidades para pagar pelo mesmo serviço.